quarta-feira, junho 27, 2012
sexta-feira, junho 22, 2012
Sobre laços, amor e discursos- Marina Vieira Espinoza*; Vera Lopes Besset
Sobre laços, amor e discursos
Marina Vieira Espinoza*; Vera Lopes Besset**
Universidade Federal do Rio de Janeiro
RESUMO
Este artigo tem como objetivo discutir o tratamento dado ao mal-estar pela psicanálise no mundo contemporâneo, tendo em vista o modo como o sujeito se apresenta: submetido ao discurso do capitalista, desconectado do campo do Outro. Propomos uma manobra a mais no momento das entrevistas preliminares, visando a um enlaçamento entre analista e paciente, pela transferência, entendida como condição de possibilidade a todo tratamento analítico. Defendemos que, pela via do encontro com o discurso do analista e do amor de transferência, é possível promover a articulação do campo do sujeito com o campo do Outro, princípio de todo laço social, e permitir que o sujeito construa uma nova saída para lidar com o mal-estar, implicando-se em sua queixa e no sofrimento que relata.
Palavras-chave: psicanálise; mal-estar; laço social; discurso analítico; transferência
Considerações preliminares
"Pânico, depressão, ansiedade, fobia e stress, formas de apresentação do sofrimento nas queixas dos sujeitos que buscam um tratamento, denominações atuais para o que Freud (1930) chamou de mal-estar na cultura. Em seu texto sobre o tema, escrito em 1929, o autor afirma que alcançar e manter a felicidade, propósito da vida dos seres humanos, é um programa irrealizável. Isso porque a felicidade corresponderia à satisfação imediata de necessidades: “Se uma situação ansiada pelo princípio do prazer perdura, em nenhum caso se obtém mais do que um ligeiro sentimento de bem estar; estamos organizados de tal modo que só podemos gozar com intensidade o contraste e muito pouco com o estado” (Freud 1986/1930 [1929], p. 76) (tradução nossa). Segundo ele, seriam três as fontes privilegiadas de sofrimento para o homem: o próprio corpo, o mundo externo e o relacionamento com os outros (Freud, 1986/1930 [1929], p. 76). Resume, então, o mal-estar ao qual se refere:
A vida, como nos é imposta, resulta árdua: nos traz fartas dores, desenganos, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir de calmantes. Eles existem, talvez, de três classes: poderosas distrações substitutivas, que nos fazem amenizar um pouco nossa miséria; satisfações substitutivas, que a reduzem; e substâncias entorpecentes que nos tornam insensíveis a elas (Freud, 1986/1930) (tradução nossa).
Em contraponto a isso, as diretrizes de nossa cultura, radicalizando os princípios da modernidade (Lipovetsky, 2004), indicam que os sujeitos devem ser felizes e completos. Assim, devem eliminar os fatores que causam desconforto e os desviam da rota da plenitude. Nesse contexto, inúmeros são os objetos elevados ao status de portadores da solução contra qualquer tipo de sofrimento. O aumento da oferta desses produtos é fruto da exaltação do prazer a qualquer custo, em consonância com a lógica da sociedade de consumo, que incentiva a aquisição e o descarte de bens (Bauman, 2003; Miller, 2004). No entanto, essa “técnica” fracassa em sua função de garantir o bem-estar e, desse modo, a felicidade. Isso porque, invariavelmente, o objeto escolhido para tamponar a falta não sustenta essa função e o sofrimento retorna. No melhor dos casos, sob a forma de sintoma. Sendo assim, registram-se várias propostas de tratamento. Nesse contexto, observa-se uma diminuição no interesse do sujeito em deixar-se interpelar por seu sofrimento, mostrando-se cada vez mais acomodado em uma posição de vítima ou de objeto.
As novidades produzidas pela ciência são difundidas pela rede mundial da internet: diversos tipos de terapia, remédios, livros de autoajuda. Nesse mesmo movimento, vemos o incremento da avaliação e dos protocolos como forma de universalizar e padronizar a partir da média, que acaba por excluir o que há de particular em cada sujeito (Miller, 2004; 2005; Miller; Milner, 2006). Com a proliferação dos diagnósticos, que acabam funcionando como rótulos, tudo pode ser justificado, pois tem uma causa e se resume no “transtorno”, na “doença”. Quando a sintonia de seu quadro sintomático é abalada, por vezes, um sujeito procura um tratamento. Em geral, buscando a restituição de uma situação anterior, de harmonia com seu sintoma. Isso, a partir de uma solução que não demande muito investimento, seja de tempo, de renúncia ou de elaboração. Sobre isso nos diz Palomera:
O sujeito não ignora o mal-estar do sintoma como resposta desprazeroza; o que ignora do que não quer saber é a verdade que responde ao sintoma, o ser de verdade que sobre ele, como sujeito, traz o sintoma à luz do dia (Palomera, 2004, p. 3) (tradução nossa).
A proposta da psicanálise tem como condição uma abertura do sujeito à responsabilização por seu sofrimento. Imersa no cenário dos tempos hipermodernos, ela trabalha, entretanto, a partir de uma lógica diversa à do tamponamento ou do apaziguamento da dor de existir (Brousse, 2003, p. 69). Nela se trata de lidar com o sofrimento de maneira distinta, pois, no lugar dos objetos de consumo ou de promessas milagrosas de autocontrole e felicidade, um psicanalista oferece sua escuta. Nesse sentido, é a partir do acolhimento do sintoma que é possível à psicanálise operar. Sobre isso, Palomera assinala que o próprio sintoma aponta sua dimensão de verdade. Assim, a despeito de o sujeito não querer saber a verdade do que ele é em seu sintoma, “conforme o sintoma o divide, e como está dividido sem saber disso que há nele e que se manifesta no estranho do sintoma, vê-se induzido a saber” (Palomera, 2004, p. 3) (tradução nossa). O que do sintoma aparece como estranho, é o que Lacan assinala como sendo o seu sentido"
...
Mais aqui.
Psicanálise e toxicomania
Psicanálise e Toxicomania
" No discurso da ciência, a droga ocupa o lugar central e pouca importância se dá para sujeito. O seu manejo, via de regra, é comportamental,medicamentoso e, se porventura, falha, a responsabilidade é do individuo.
O artigo de J. Reis é bem interessante para se pensar no sujeito e o lugar que a droga ocupa para a sua vida..." http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_5/O_diagnóstico_diferencial_na_clínica_das_toxicomanias. www.opcaolacaniana.com.br
Daqui do Facebook.
" No discurso da ciência, a droga ocupa o lugar central e pouca importância se dá para sujeito. O seu manejo, via de regra, é comportamental,medicamentoso e, se porventura, falha, a responsabilidade é do individuo.
O artigo de J. Reis é bem interessante para se pensar no sujeito e o lugar que a droga ocupa para a sua vida..." http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_5/O_diagnóstico_diferencial_na_clínica_das_toxicomanias. www.opcaolacaniana.com.br
Daqui do Facebook.
quinta-feira, junho 21, 2012
A PASSAGEM DO DISCURSO CAPITALISTA PARA O DISCURSO ANALÍTICO ...
A PASSAGEM DO DISCURSO CAPITALISTA PARA O DISCURSO ANALÍTICO SE FAZ PELA EMERGÊNCIA DE UM SIGNO DE AMOR
[...] "lo que hace existir el inconsciente como saber, es el amor. Por otra parte, la cuestión del amor, a partir del Seminario Aún conoce una promoción muy especial, porque el amor es lo que puede hacer mediación entre los unos solos. Por lo tanto, decir que es imaginario, en fin, produce una dificultad. Es decir que el inconsciente no existe. El inconsciente primario no existe como saber. Para que devenga un saber, para hacerlo existir como saber, hace falta el amor. Y es por lo cual Lacan podía decir al final de su Seminario Los nombres del Padre: un psicoanálisis, demanda amar a su inconsciente. Es el único medio de hacer, de establecer una relación entre S1 y S2."
(Jacques-Alain Miller - Conferencia en el IV Congreso de la AMP (2004): "Una fantasía" - citação publicada por Paula Contreras no mural de 'Amigos del Psicoanálisis en Paraguay')
[...] "lo que hace existir el inconsciente como saber, es el amor. Por otra parte, la cuestión del amor, a partir del Seminario Aún conoce una promoción muy especial, porque el amor es lo que puede hacer mediación entre los unos solos. Por lo tanto, decir que es imaginario, en fin, produce una dificultad. Es decir que el inconsciente no existe. El inconsciente primario no existe como saber. Para que devenga un saber, para hacerlo existir como saber, hace falta el amor. Y es por lo cual Lacan podía decir al final de su Seminario Los nombres del Padre: un psicoanálisis, demanda amar a su inconsciente. Es el único medio de hacer, de establecer una relación entre S1 y S2."
(Jacques-Alain Miller - Conferencia en el IV Congreso de la AMP (2004): "Una fantasía" - citação publicada por Paula Contreras no mural de 'Amigos del Psicoanálisis en Paraguay')
O amor além do gozo
"O amor está para além do gozo sexual. Ele visa o ser e tem como efeito a produção da alma, cuja definição lacaniana é "aquilo que permite ao ser falante suportar o intolerável de seu mundo." Eis porque o amor se refere sempre à alma, - o almor alma a alma. O amor é a afirmação do ser e da vida. Nas situações mais extremas de ameaça, ao ser, ou seja, de risco absoluto de deixar de ser, de existir, de " not to be", o que se tem? A declaração de amor. "
domingo, junho 10, 2012
Sobre hábitos- Da Folha
A força do hábito
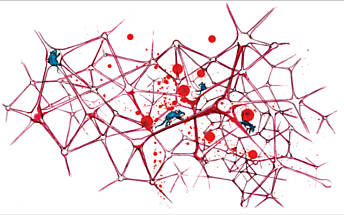 | ||
RESUMO
Quase metade das ações que executamos diariamente não são produto de decisões deliberadas, mas do hábito. Livros recentes mostram como rotinas se tornam vícios, como empresas se aproveitam dos costumes dos clientes para aumentar vendas e como mudanças de hábitos podem reduzir mortes em hospitais.
HÉLIO SCHWARTSMAN
Qualquer comportamento humano é o resultado da interação de uma série de variáveis, que incluem desde inflexíveis características genéticas até detalhes exoticamente mundanos, como a temperatura em que foi deixado o ar condicionado, passando pelo mais puro acaso. Se há uma força que se destaca nessa multidão de impulsos e disposições, é o hábito.
Pesquisadores da Universidade Duke estimaram, num trabalho de 2006, que mais de 40% das ações que executamos diariamente não são produto de decisões deliberadas, mas do hábito. Seria difícil superestimar sua importância.
Hábitos nos permitem executar uma miríade de atividades intimamente associadas a nosso bem-estar e são uma das principais forças a movimentar a economia mundial. A capacidade de modificá-los está intimamente associada ao sucesso de pessoas e empresas.
Do lado negativo, hábitos estão ligados à dependência de drogas e a outros comportamentos destrutivos e são o ponto a partir do qual políticos, publicitários e outros segmentos da mídia tentam (e muitas vezes conseguem) influir em nossas decisões e manipular-nos o comportamento.
O hábito é basicamente uma rotina neurológica pela qual executamos uma tarefa de modo mais ou menos automático, como escovar os dentes, dirigir pelo trajeto de sempre, acender um cigarro após as refeições ou, no caso de uma tartaruga marinha, voltar sempre à mesma praia em que nasceu para depositar seus ovos.
Trata-se de uma ferramenta de aprendizado, a forma favorita da natureza de fixar comportamentos úteis para a sobrevivência. É pelo hábito que a maior parte dos vertebrados navega pelo mundo.
Nós, humanos, ao lado de alguns outros mamíferos, somos um pouco diferentes. Temos uma certa flexibilidade e, por isso, não nos fiamos inteiramente no hábito.
O problema é que o comportamento flexível demanda enormes recursos atencionais e, portanto, energéticos (o sistema nervoso central consome sozinho cerca de 25% do oxigênio que respiramos).
Sempre que pode, o cérebro tenta converter atividades rotineiras em hábitos e, com isso, poupar energia e liberar espaço para outras tarefas.
VÍCIO
Em termos neurológicos, os gânglios basais parecem ser o lugar onde armazenamos nossos hábitos. Essas estruturas primitivas também já foram associadas ao controle de sistemas motores (elas têm um papel importante na doença de Parkinson) e aos centros de recompensa, envolvidos no aprendizado e no vício em drogas.
Um pouco desprezado pelos cientistas, que o viam como algo repetitivo e aborrecido e que evocava os piores momentos do behaviorismo, o hábito está dando sua volta por cima. Nos últimos anos, vários livros detalharam seus mecanismos de funcionamento e destrincharam suas implicações.
Um recente é "The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business" [Random House, 400 págs., R$ 79] , de Charles Duhigg. O autor não é cientista nem divulgador de ciência. É repórter de negócios do "New York Times" e começou a se interessar pela força do hábito para modificar comportamentos quando cobria a guerra no Iraque.
No início da ocupação, o país era castigado por episódios quase diários de manifestações violentas. Mas havia uma notável exceção. A pequena cidade de Kufa despontava como ilha de tranquilidade. O responsável pela façanha era um major do Exército dos EUA, que, após analisar vídeos de protestos que descambavam para a violência, resolveu fazer um experimento. Mandou retirar todos os vendedores de comida da praça de Kufa. Deu certo.
O major identificara um padrão, um hábito organizacional. Os manifestantes se juntavam na praça aos poucos e iam atraindo a atenção de passantes, que paravam para observar, engrossando a multidão. Então apareciam os vendedores de comida. Alguém gritava um slogan antiamericano, jogava uma pedra ou uma garrafa e o pandemônio começava.
Sem os vendedores de comida, que haviam se tornado um dos gatilhos da rotina de violência, o ciclo não se completava. Os passantes, com fome e sem ter como saciá-la, preferiam ir para casa, desmobilizando os manifestantes.
"The Power of Habit" é um livro gostoso de ler. Duhigg escreve bem e recheia a narrativa com casos humanos e boas histórias sobre empresas, algumas com potencial para nos deixar preocupados, como veremos adiante. Poderia ter sido um pouco mais meticuloso ao descrever a ciência do hábito, mas a verdade é que a neurofisiologia é uma disciplina que não costuma atrair multidões de fãs.
Na versão simplificada, hábitos se materializam como um circuito de três fases. Eles são desencadeados por uma sugestão que funciona como gatilho, disparando a rotina gravada nos gânglios basais. Essas rotinas podem ser tanto físicas (meter os dentes numa barra de chocolate) como mentais (lembrar a infância sempre que se come um biscoito).
Em seguida vem a recompensa, que costuma ser uma boa descarga de dopamina, conhecida jornalisticamente como molécula do prazer. Trata-se de um mecanismo de "feedback" positivo.
Isso significa que, quanto mais o usamos, mais ele se solidifica em nossas mentes. Daí a dificuldade em abandonar velhas práticas, notadamente as que nos fazem mal. Esse mecanismo se manifesta na forma de "craving" (fissura), que é o desejo incontido de executar a rotina despertado pelo gatilho.
Outra implicação é que nunca nos livramos de verdade nossos hábitos, mesmo quando nos esforçamos para mudá-los. A rotina antiga é alterada, mas fica armazenada em algum recôndito de nossas mentes. O bom é que não precisamos reaprender a dirigir sempre que voltamos de férias. O ruim é que, sob estresse, alcoólatras e outras vítimas de dependência podem recair nos velhos padrões.
EMPRESAS
Hábitos não estão limitados a pessoas. Eles também estão presentes na vida de empresas e organizações. Pior ainda, empresas e organizações tentam explorar os hábitos de pessoas, mais especificamente de consumidores, para aumentar seu faturamento.
Um exemplo é o do McDonald's. As lojas seguem uma planta standard e tentam ser o mais parecidas possível, inclusive nas fórmulas de tratamento usadas pelos funcionários. A ideia é que tudo sirva como gatilho para disparar as rotinas de alimentação dos clientes. Eles se sentirão reconfortados e recompensados. E quanto mais forem ao McDonald's, mais quererão voltar.
Um caso assustador narrado por Duhigg é o da rede Target. Grávidas são uma mina de ouro para o comércio, não só porque gastam muito nos enxovais, mas, principalmente, porque esse é um momento em que elas (e os maridos) são particularmente vulneráveis a alterar hábitos de consumo, potencialmente para o resto da vida.
Diante disso, a Target, que vende um pouco de tudo, de móveis e eletrodomésticos a comida, a preços atrativos, resolveu que precisava descobrir quais clientes estavam começando uma gravidez para ganhá-las para todo o sempre.
Para isso contratou o economista comportamental Andrew Pole, que desenvolveu um algoritmo matemático para, com base em alterações bruscas nos itens comprados -coisas como vitaminas, loções, bolsas grandes-, identificar quais estavam grávidas. Aí era só enviar-lhes os cupons certos, com descontos para lindos berços e estoques de fraldas, e fisgá-las.
É claro que nada pode ser tão explícito. Muitos ficariam irritados se descobrissem que seu supermercado xereta o que compram para ampliar vendas. Assim, a Target não poderia só enviar cupons de produtos relacionados a bebês para as grávidas. A solução, genial, foi mandar essa publicidade específica misturada à de outros itens, fazendo parecer que tudo não passou de feliz coincidência.
A moral da história, que dá razão aos paranoicos, é que é preciso ter cuidado ao passar o cartão de fidelidade no caixa. Sua loja favorita pode estar descobrindo seus segredos mais íntimos.
LESÕES
Esses exemplos mundanos podem dar a impressão de que o hábito ocupa um lugar marginal em nossas vidas mentais, mas seu papel é absolutamente central.
Pessoas com lesões nos gânglios basais perdem a capacidade até de decidir o que vão comer ou de abrir uma porta. Sem os atalhos proporcionados pelo hábito, ficam mentalmente paralisadas, impossibilitadas de ignorar os detalhes insignificantes que continuamente inundam nossas cabeças.
Para Duhigg, o segredo para mudar os hábitos é manter o gatilho e a recompensa antigos, mas alterar a rotina. Parece banal e de fato é. O detalhe é que as pessoas nem sempre estão cientes de quais gatilhos disparam seus costumes.
O que programas como o Alcoólicos Anônimos (AA) fazem é oferecer condições para que a pessoa perceba que situações acionam a "fissura" que a leva a beber e substitua a rotina por outras que também produzam satisfação. A visita ao bar é trocada por uma reunião ou conversa com o padrinho.
O autor sustenta que, em princípio, por esse esquema de reconhecimento e substituição, qualquer hábito pode ser modificado. Aqui está o ponto mais fraco do livro de Duhigg. É claro que, em princípio, toda rotina automática pode ser alterada.
Pessoas se curam até da dependência de heroína. Mas, quando vemos as legiões de fumantes incapazes de largar o vício e exércitos de obesos que não conseguem perder peso, vemos que fazê-lo tende a ser mais complicado do que sugere a teoria.
Ao não valorizar devidamente as dificuldades, que são epidemiologicamente aferíveis, Duhigg, se não chega ele próprio a resvalar na literatura de autoajuda, abre uma avenida para seus promotores.
Cuidado, não estou afirmando que todos os títulos de autoajuda são lixo. Muitos de fato o são, mas nem todos. Uma honrosa exceção é "Switch: How to Change Things When Change Is Hard" [Crown Business. 320 págs. R$ 33 mais taxas] , dos irmãos Chip e Dan Heath, com várias publicações na área de negócios.
Embora "Switch" busque auxiliar o leitor a desenvolver estratégias para alterar seus hábitos e os das organizações de que faça parte, está calcado em boa ciência. Enquanto Duhigg caminha pelas sendas da neurociência, os irmãos Heath apostam na psicologia. Para eles, a dificuldade para alterar uma rotina decorre do fato de que nossas mentes são o campo de batalha onde razão e emoção se enfrentam pela supremacia sobre nossas ações. Enquanto o cérebro racional deseja uma silhueta esbelta, o emocional está mais interessado em repetir a sobremesa.
De modo geral, a razão gosta de mudança, enquanto a emoção prefere o conforto da rotina conhecida. Embora costumemos pensar em nós mesmos como seres racionais e ponderados, um enorme corpo de experimentos psicológicos esboça quadro mais complexo.
ELEFANTE
Emoções, para utilizar a imagem do psicólogo Jonathan Haidt, são um elefante; a razão, o condutor desse elefante. O animal obedecerá ao piloto, mas apenas enquanto estiver disposto a fazê-lo. Quando os dois estão de acordo, tudo transcorre bem, mas, quando divergem, o elefante tende a levar a melhor. Ele, afinal, é o mais forte e o mais resistente. Há outras circunstâncias, mais raras, em que o condutor convence o bicho a mudar de ideia. É aí que se inscrevem as mudanças de hábito.
Embora a prosa dos Heath não seja saborosa como a de Duhigg, eles também recorrem a casos interessantes, como o de Donald Berwick, médico e CEO do Institute for Healthcare Improvement.
Berwick queria reduzir o número de mortes por erros de procedimento em hospitais dos EUA. A taxa de "defeito", isto é, de erros como não ministrar a droga certa na quantidade e na hora especificadas, era de absurdos 10% no início dos anos 2000. Na maioria das indústrias, esse índice é inferior a 0,1%. Isso significava que dezenas de milhares morriam desnecessariamente a cada ano.
Nada disso era novidade. Os números eram conhecidos e todos sabiam mais ou menos o que deveria ser feito, mas as mudanças simplesmente não aconteciam. Foi aí que, em 14 de dezembro de 2004, numa convenção de administradores hospitalares, Berwick lançou o desafio. Propôs que, até as 9h de 14 de junho de 2006, ou seja, dali a 18 meses, as pessoas naquela sala salvassem 100 mil vidas.
A plateia ficou chocada, mas Berwick sugeriu que todos ali se comprometessem a implementar seis medidas específicas capazes de produzir enorme retorno. Algumas eram simples, como garantir que a cabeceira da cama de todos os pacientes estivesse com inclinação entre 30° e 45°, modo eficaz de prevenir pneumonia, complicação comum e frequentemente fatal.
Eles concordaram, mas não foi fácil. Aceitar as medidas implicava reconhecer que os hospitais tinham taxa elevada de erros e que produziam mortes desnecessárias, um pesadelo para os departamentos jurídicos. Mas a coisa ganhou força e, dois meses depois do discurso, mil hospitais haviam formalizado adesão à campanha.
Em 14 de junho de 2006, Berwick anunciava que os hospitais participantes da campanha das 100 mil vidas tinham evitado coletivamente 122.300 mortes, segundo cálculos dos epidemiologistas. Mais importante, a maior parte das seis medidas propostas havia sido institucionalizada. Os hospitais dos EUA se tornaram lugares um pouco menos perigosos.
Para os irmãos Heath, a receita da mudança de hábito tem três partes. Primeiro, dirija-se ao condutor do elefante. Muitas vezes, o que parece resistência é apenas falta de clareza. No caso de Berwick, as instruções ao piloto vieram na forma das seis intervenções.
Motive o elefante. O que parece preguiça pode ser só exaustão. O condutor não consegue opor-se ao animal por muito tempo, assim, é preciso colocar o lado emocional para trabalhar a favor da mudança. No exemplo, a motivação é salvar 100 mil vidas em 18 meses.
Modele o caminho. O que parece falha de caráter é às vezes só problema situacional, quando você altera um bocadinho as coisas para que a mudança pareça mais factível, ela se torna mais provável. Berwick modelou o caminho ao criar um sistema simples de adesão que logo se tornou corrente.
TRÁGICO
David DiSalvo, autor de "What Makes Your Brain Happy and Why You Should Do the Opposite" [Prometheus, 280 págs., R$ 43] , tem visão mais trágica. Para ele, o cérebro evoluiu para tornar-se uma máquina de fazer previsões. Para tanto, especializou-se em identificar padrões, antecipar ameaças e forjar narrativas. Ele ama a estabilidade e tem horror à incerteza e à imprevisibilidade, ameaças existenciais.
O problema é que, ao desenvolver a capacidade de se defender dessas supostas ameaças, nossos cérebros deixaram para trás subprodutos que jamais conseguiremos desentranhar de nossas atitudes e nossos pensamentos. Exemplos dessas inclinações incluem nossa obsessão por certezas, a confiança excessiva na memória, a disposição para achar que tudo tem um significado especial, a vontade de estar no controle etc.
Embora esses vieses deixem nossos cérebros felizes, isso nem sempre serve a nossos interesses no mundo moderno. Lembre que nossas mentes foram criadas para operar no paleolítico, não em sociedades tecnológicas e plurais.
Sintomaticamente, o livro de DiSalvo é o que reúne menos exemplos. É também o que traça panorama mais completo dos recentes achados científicos sobre aspectos salientes da natureza humana. O hábito é um dos personagens, mas, como estamos num romance sem protagonistas, não faz tantas aparições quanto nos outros livros.
Para o autor, os últimos achados da neurociência e da psicologia cognitiva desferem um golpe na literatura de autoajuda, ao mostrar como a maioria dos conselhos são vazios e até fraudulentos. O caminho, diz DiSalvo, é usar a ciência para entender por que nossos cérebros encerram vieses que nos colocam em encrencas e por que temos dificuldade em sair delas.
Curiosamente, DiSalvo finaliza o livro com 50 pérolas de sabedoria extraídas de um corpo que parece consistente de evidências científicas. São conselhos como "cuidado com nossos vieses", "termine o que começou", "crie hábitos úteis" etc. -um fecho paradoxal para um autor tão crítico à autoajuda.
Uma explicação possível é que, entre os pendores inextinguíveis do gênero humano, estão o medo da incerteza com o futuro e a necessidade de estar no controle, que, juntos, asseguram que, enquanto os humanos forem humanos, haverá interesse pela autoajuda. As melhores evidências disponíveis provam que esse é um hábito que não conseguiremos mudar nem com o auxílio de muita ciência.
Da Folha de São Paulo- Ilustríssima.
sexta-feira, junho 08, 2012
‘Psicose’: o Nome-do-pai foracluído- Slavoj Žižek
‘Psicose’: o Nome-do-pai foracluído*
Slavoj Žižek
Tradução: Rodrigo Nunes Lopes Pereira
O “maior filme” de Hitchcock, se podemos perdoar essa qualificação convencional, com o qual ele parece ter atingido seu limite. Como se a obra tivesse sido um tal choque que ele tivesse perdido o equilíbrio, e que em seguida se sentisse incapaz de retomar o controle de seus meios. (Comparado à intensidade quase intolerável de ‘Psicose’, ‘Os Pássaros’ aparece como um relaxamento.)
A tonalidade do filme é, desde o primeiro momento, diferente do que o mestre nos havia até então acostumado, pois o aspecto do meio aonde irá se estabelecer o drama não tem nada de idílico, como era o caso de ‘Janela indiscreta’, ou de ‘O terceiro tiro’. De uma ponta a outra do filme, para retomar a bela expressão de Hölderlin faz- um “tempo de chumbo”. E essa inclinação da vida, que se desenrola apoiada no cotidiano cinza de ordinary people confinadas em suas esperanças e medos miseráveis, (solidão, falta de dinheiro, medo da polícia, esforços desesperados para conseguir uma pequena porção de felicidade), é confrontada ao que se poderia chamar a vertente noturna da psicose – o crime patológico. A relação dos dois registros não é mais a de uma superfície calma e de uma profundidade tempestuosa, mas como as duas superfícies de uma tira de Mœbius: ao percorrermos um lado, subitamente nos encontramos sobre o outro. E o ponto de passagem entre as duas é o assassinato de Marion.
Este episódio é muito frequentemente citado como o maior momento do filme e se negligencia, talvez injustamente, o assassinato de Arbogast. O assassinato de Marion nos surpreende como um choque, uma surpresa “irracional” vindo interromper o desdobramento da história: a heroína, que já tinha obtido a aprovação do público, morre sem qualquer razão concebível antes da metade do filme. Sua morte é encenada de maneira bastante cinematográfica: jamais se vê ao mesmo tempo o assassino desconhecido e o corpo inteiro de Marion; o ato é como que partido por uma dezena de close-ups fragmentários que se sucedem em um ritmo frenético (a faca que se aproxima do ventre, a mão que golpeia, o grito da boca aberta...). Dir-se-ia que os golpes repetidos e bruscos do assassino contaminaram a montagem do filme afligindo a continuidade do olhar fílmico.
Mas como ultrapassar semelhante choque em um segundo assassinato?
Hitchcock
evidentemente encontrou a solução: ele consegue intensificar o efeito do
assassinato de Arbogast filmando, ao contrário, em três ou quatro longas
tomadas, de maneira que nós o aguardamos. Aliás, retrospectivamente,
tudo parece anunciá-lo: quando o detetive entra na casa de Norman e se detém ao
pé da escadaria vazia – este leitmotiv de
Hitchcock –, nós sabemos que “alguma coisa vai acontecer”, e quando uma porta
do primeiro andar se abre enquanto ele sobe, nós temos certeza de que “alguma
coisa se prepara”. Há em seguida uma longa tomada durante a qual a câmera se
eleva e gira em um longo travelling,
para enfim se imobilizar mostrando uma visão panorâmica da cena – como se,
antes do acontecimento fatal, ela quisesse nos dar uma ideia clara e geral da
situação.
Então acontece o que nós esperamos: a porta se abre e surge a
aparição já conhecida que derruba Arbogast com uma facada.
Este segundo assassinato constitui uma verdadeira obra prima de suspense e de ascese fílmica, pois se produz sobre o fundo do primeiro e ainda o ultrapassa. O choque mais brutal intervém, com efeito, quando se realiza exatamente o que se esperava, da mesma maneira que em Hegel a contradição mais radical é a tautologia. É como se, nesse ponto, viesse a coincidir tiquê e automaton: a mais terrificante irrupção da tiquê, que perturba a estrutura, tem lugar no momento mesmo onde, por puro automatismo, advém uma necessidade de estrutura.1
Por trás de sua aparente simplicidade, este assassinato faz apelo a uma dialética do esperado e do inesperado, ou seja, do desejo. Essa economia paradoxal, com efeito, onde a realização do que se espera se acompanha de um efeito de inesperado, não é concebível senão no universo de um sujeito dividido, logo desejante, aí onde a espera é investida de desejo. Eu sei bem que o acontecimento X se dará; mesmo assim eu me surpreendo quando ele acontece porque, ainda que sabendo, eu não acredito. Assim Hitchcock nos faz ver a crença inconsciente, que se revela muito mais subversiva do que parece. Pois longe de ser um encontro “interior”, íntimo, a crença está materialmente na atividade efetiva do sujeito: em torno dela se articula o fantasma que rege a efetividade social.
Vejamos, por exemplo, o famoso universo kafkiano, o qual se reprovou por ser uma visão exagerada, fantástica, e subjetiva da burocracia moderna. Esta leitura desconhece justamente o fato de que esse suposto exagero é o lugar de inscrição do fantasma na obra no funcionamento libidinal da própria burocracia “efetiva”. Então, em vez de o universo kafkiano ser uma imagem fantástica da realidade social, ele é, ao contrário, a encenação do fantasma que rege essa realidade. Mesmo sabendo que a burocracia não é todo-poderosa, nosso comportamento efetivo é condicionado pela crença em seu poder absoluto: a realidade social é, ela mesma, em um certo sentido, uma construção ética. Ela se sustenta na pressuposição de um como se: age-se como se se acreditasse que a burocracia é todo-poderosa, que o presidente representa a Vontade do Povo, que o Partido encarna o interesse objetivo da classe trabalhadora. Se esta crença – que, repita-se, não tem absolutamente nada de “psicológico”, mas se encontra materialmente no funcionamento “objetivo”, “efetivo”, do campo social – se perde, a textura do próprio social se dissipa.
Quanto ao desejo, ele reside, à primeira vista, nessa crença: mesmo sabendo que não-x, acredita-se, contudo, que x, porque se o deseja. Mas a realidade é totalmente diferente: essa coisa horrível na qual não se pode acreditar, é justamente o desejo. Assim, a crença inconsciente se analisa como uma defesa face à verdade insuportável do desejo. Enquanto espectadores, nós demandamos efetivamente que o x (o assassinato, a explosão) tenha lugar, e a única função da crença de que esse x não possa acontecer é de dissimular nosso desejo, investido na espera de que o x acontecerá.
Antes do assassinato em ‘Psicose’, Hitchcock já havia explorado esse mecanismo com a explosão da bomba em ‘Agente Secreto’. Quando o artefato assassino não explode no tempo previsto, a angústia que nos oprimia se transforma em uma decepção, que nos faz tomar consciência do nosso desejo. Quando pouco tempo depois ela estoura efetivamente, o atraso parece ter sido para nos fazer aprender a reconhecer o desejo.
Contrariamente ao que se produz quando de uma mentira habitual ou quando se é enganado por uma imagem falsa, aqui, o sujeito não é enganado, na medida em que ele não ignora nada da situação (ele sabe que o assassinato acontecerá, etc.), a instância enganada e surpreendida é “o próprio outro”, o Outro simbólico.
Assim, quando no conto a criança diz em voz alta com toda inocência: “O rei está nu”, quando todo o povo o sabe pertinentemente, por que o simples enunciado de tal evidência produz tal efeito catastrófico? Quem era este que não sabia, quando todos os sujeitos sabiam? O grande Outro. Que a enunciação de uma evidência comum possa desencadear essa catástrofe inter-subjetiva que é a destruição do laço social, possui de fato o valor de uma “prova ontológica da existência do grande Outro”. É por isso que o materialismo lacaniano, cuja tese fundamental é que “o Outro não existe” consiste em afirmar a inconsistência, o caráter vazio, do grande Outro, do campo simbólico.
Uma leitura analítica do filme não deveria partir, então, de um pretenso simbolismo, mas deveria, ao contrário, se ater ao aspecto formal da encenação.
Psicose é, aliás, o melhor exemplo da impotência do método psicanalítico tradicional. Pois se seu conteúdo parece se prestar a esse gênero de interpretação – um sujeito psicótico (Norman) é atormentado pelo supereu materno, etc. –, ao “ler” o filme dessa maneira, descobrindo por toda parte símbolos da “psicologia das profundezas” (como faz, por exemplo, Robin Wood2, o qual vê no térreo da casa o eu [moi] de Norman, no primeiro andar seu supereu, e no porão, o id), fica-se com o sentimento de estar se desviando do essencial. Mas não seria necessário concluir daí, portanto, a ineficácia do método psicanalítico como tal, mas apenas rejeitar a equivalência simbólica entre os personagens, os objetos ou as situações. Não há necessidade de se encontrar as representações simbólicas do supereu materno – ela já está aí com essa presença angustiante da voz “acusmática” da mãe3, e até no olhar superegóico da câmera, quando sua “neutralidade objetiva” começa a ganhar um ar ameaçador, subvertendo a identificação do espectador com os personagens do filme4.
Os diferentes críticos de Hitchcock fazem dessa subversão da identificação do espectador um lugar comum, mas Psicose é, apesar de tudo, excepcional quanto a isso, porque aqui o procedimento de identificação do espectador e sua subversão constituem em si mesmos a chave do filme. No início, nos identificamos com Marion, seguimos a história a partir de seu ponto de vista. De súbito, seu assassinato nos desconcerta, e se faz necessário encontrarmos um outro ponto de apoio. O detetive substitui essa função, até que ele também seja assassinado. Nos desviamos finalmente para Sam e Leila e sua investigação. Falta apenas a identificação com Norman, o verdadeiro herói desta segunda parte. Aí reside precisamente o corte operado pelo primeiro assassinato: antes, a identificação se faz em torno da heroína principal; depois, torna-se impossível se fixar em um personagem que a substitua como uma outra versão dela, como seu negativo em espelho (seus nomes parecem já se refletir: Marion-Norman). Mas de onde provém então essa impossibilidade?
Tentando buscar a resposta nos dois registros que caracterizam o universo de Psicose, o mundo cotidiano de Marion (com Arbogast, Sam, Leila...) e o mundo noturno de Norman, que seria sucessivamente o do desejo e o da pulsão. A passagem de um personagem a outro seria como o reviramento do registro do desejo ao da pulsão em um mesmo personagem.
O desejo, com efeito, é um movimento metonímico ao infinito, um deslizamento em direção ao objeto-causa originariamente perdido. Sempre insatisfeito, ele se presta a todas as interpretações, coincidindo mesmo com sua interpretação, ele próprio é a passagem de um significante a outro, a incessante produção de novos significantes que dão sentido aos precedentes. A pulsão, ao contrário, é em certo sentido sempre já insatisfeita. Limitada a um circuito fechado, à sua pulsação, em vez de buscar um “sempre outro”, ela gira em torno de seu objeto e encontra seu gozo na própria pulsação. Nisso, ela é parte integrante do real – ela é o que “retorna sempre no mesmo lugar” (Lacan) –, enquanto que o desejo está inteiramente no simbólico. A partir disso, sabe-se porque toda identificação com a pulsão é interdita, uma vez que ela é do registro do real, e que “o real, é o impossível”. Só é possível uma identificação a um outro enquanto sujeito desejante. Norman, enquanto sujeito psicótico prisioneiro de suas pulsões, fracassa na identificação – ele não tem acesso ao registro do desejo, que supõe a passagem pela lei paterna.5
A essa diferença entre o desejo e a pulsão corresponde a dualidade dos objetos hitchcockianos: de um lado o “McGuffin”, o “puro nada”, o “segredo” que impulsiona a ação (a fórmula dos motores de avião em Os trinta e nove degraus, o urânio em Interlúdio, etc.), de outro, o objeto opaco, inerte, material, positivo, que encarna um impasse não dialetizável da rede intersubjetiva (o anel em A sombra de uma dúvida, o isqueiro em Pacto sinistro, a chave em Interlúdio e em Disque M para matar, até as aves em Os pássaros). O “McGuffin” é o objeto-causa do desejo que anima o movimento incessante da interpretação, o esforço para desvendar seu segredo, ao passo que a presença massiva do objeto real, não dialetizável, permite ver a inércia pulsional sobre a qual se sustenta o movimento metonímico do desejo.
Psicose poderia hoje constituir uma crítica ao anti-Édipo transgressor. Norman Bates seria um anti-Édipo avant la lettre; para conseguir se libertar da influência do supereu materno, para se desvencilhar da submissão a esta figura cruel e arbitrária do Outro, não lhe falta senão a Lei capaz de deter o desejo – não o seu desejo, mas o desejo do Outro, da mãe. Antes da intervenção da Lei, o sujeito é vítima dos caprichos do Outro, e ela “introduz o fantasma da onipotência não do sujeito, mas do Outro onde se instala sua demanda (...) e com o fantasma a necessidade sua contenção pela Lei”.6 Por esta razão, a intervenção da Lei é até mesmo uma “desalienação”, pois ela detém o desejo do Outro, o fantasma da onipotência do Outro onde o desejo do sujeito está alienado, introduzindo uma regra à qual o próprio Outro deve obedecer.7 Seria errôneo, contudo, concluir do que precede que a psicanálise reivindica a Lei paterna. Ela não ignora que o pai legislador é um impostor, e que esta posição se sustenta somente como um Outro do Outro8: o pai ocupa um lugar impossível, originalmente vazio, aquele da falta no Outro, do buraco em torno do qual se articula a ordem simbólica. Os defensores do anti-Édipo, que proclamam o fluxo do desejo contra a Lei paterna, desconhecem precisamente esse dado incontornável. A verdadeira transgressão da Lei paterna não consiste em libertar o desejo de entraves postos pela Lei, mas antes em provar esse vazio, esse buraco no outro onde se aloja a impostura do pai, o que vem a admitir o caráter “não-todo” do Outro. A verdade que tenta dissimular essa impostura e esse buraco, assim como a deslumbrante figura paterna, não esconde a não ser o vazio de seu lugar. Este é o motivo de a ilusão desta impostura ser consubstancial à verdade: não há verdade sem erro, como não há lugar vazio sem o elemento do qual esse lugar é o lugar.
Este segundo assassinato constitui uma verdadeira obra prima de suspense e de ascese fílmica, pois se produz sobre o fundo do primeiro e ainda o ultrapassa. O choque mais brutal intervém, com efeito, quando se realiza exatamente o que se esperava, da mesma maneira que em Hegel a contradição mais radical é a tautologia. É como se, nesse ponto, viesse a coincidir tiquê e automaton: a mais terrificante irrupção da tiquê, que perturba a estrutura, tem lugar no momento mesmo onde, por puro automatismo, advém uma necessidade de estrutura.1
Por trás de sua aparente simplicidade, este assassinato faz apelo a uma dialética do esperado e do inesperado, ou seja, do desejo. Essa economia paradoxal, com efeito, onde a realização do que se espera se acompanha de um efeito de inesperado, não é concebível senão no universo de um sujeito dividido, logo desejante, aí onde a espera é investida de desejo. Eu sei bem que o acontecimento X se dará; mesmo assim eu me surpreendo quando ele acontece porque, ainda que sabendo, eu não acredito. Assim Hitchcock nos faz ver a crença inconsciente, que se revela muito mais subversiva do que parece. Pois longe de ser um encontro “interior”, íntimo, a crença está materialmente na atividade efetiva do sujeito: em torno dela se articula o fantasma que rege a efetividade social.
Vejamos, por exemplo, o famoso universo kafkiano, o qual se reprovou por ser uma visão exagerada, fantástica, e subjetiva da burocracia moderna. Esta leitura desconhece justamente o fato de que esse suposto exagero é o lugar de inscrição do fantasma na obra no funcionamento libidinal da própria burocracia “efetiva”. Então, em vez de o universo kafkiano ser uma imagem fantástica da realidade social, ele é, ao contrário, a encenação do fantasma que rege essa realidade. Mesmo sabendo que a burocracia não é todo-poderosa, nosso comportamento efetivo é condicionado pela crença em seu poder absoluto: a realidade social é, ela mesma, em um certo sentido, uma construção ética. Ela se sustenta na pressuposição de um como se: age-se como se se acreditasse que a burocracia é todo-poderosa, que o presidente representa a Vontade do Povo, que o Partido encarna o interesse objetivo da classe trabalhadora. Se esta crença – que, repita-se, não tem absolutamente nada de “psicológico”, mas se encontra materialmente no funcionamento “objetivo”, “efetivo”, do campo social – se perde, a textura do próprio social se dissipa.
Quanto ao desejo, ele reside, à primeira vista, nessa crença: mesmo sabendo que não-x, acredita-se, contudo, que x, porque se o deseja. Mas a realidade é totalmente diferente: essa coisa horrível na qual não se pode acreditar, é justamente o desejo. Assim, a crença inconsciente se analisa como uma defesa face à verdade insuportável do desejo. Enquanto espectadores, nós demandamos efetivamente que o x (o assassinato, a explosão) tenha lugar, e a única função da crença de que esse x não possa acontecer é de dissimular nosso desejo, investido na espera de que o x acontecerá.
Antes do assassinato em ‘Psicose’, Hitchcock já havia explorado esse mecanismo com a explosão da bomba em ‘Agente Secreto’. Quando o artefato assassino não explode no tempo previsto, a angústia que nos oprimia se transforma em uma decepção, que nos faz tomar consciência do nosso desejo. Quando pouco tempo depois ela estoura efetivamente, o atraso parece ter sido para nos fazer aprender a reconhecer o desejo.
Contrariamente ao que se produz quando de uma mentira habitual ou quando se é enganado por uma imagem falsa, aqui, o sujeito não é enganado, na medida em que ele não ignora nada da situação (ele sabe que o assassinato acontecerá, etc.), a instância enganada e surpreendida é “o próprio outro”, o Outro simbólico.
Assim, quando no conto a criança diz em voz alta com toda inocência: “O rei está nu”, quando todo o povo o sabe pertinentemente, por que o simples enunciado de tal evidência produz tal efeito catastrófico? Quem era este que não sabia, quando todos os sujeitos sabiam? O grande Outro. Que a enunciação de uma evidência comum possa desencadear essa catástrofe inter-subjetiva que é a destruição do laço social, possui de fato o valor de uma “prova ontológica da existência do grande Outro”. É por isso que o materialismo lacaniano, cuja tese fundamental é que “o Outro não existe” consiste em afirmar a inconsistência, o caráter vazio, do grande Outro, do campo simbólico.
Uma leitura analítica do filme não deveria partir, então, de um pretenso simbolismo, mas deveria, ao contrário, se ater ao aspecto formal da encenação.
Psicose é, aliás, o melhor exemplo da impotência do método psicanalítico tradicional. Pois se seu conteúdo parece se prestar a esse gênero de interpretação – um sujeito psicótico (Norman) é atormentado pelo supereu materno, etc. –, ao “ler” o filme dessa maneira, descobrindo por toda parte símbolos da “psicologia das profundezas” (como faz, por exemplo, Robin Wood2, o qual vê no térreo da casa o eu [moi] de Norman, no primeiro andar seu supereu, e no porão, o id), fica-se com o sentimento de estar se desviando do essencial. Mas não seria necessário concluir daí, portanto, a ineficácia do método psicanalítico como tal, mas apenas rejeitar a equivalência simbólica entre os personagens, os objetos ou as situações. Não há necessidade de se encontrar as representações simbólicas do supereu materno – ela já está aí com essa presença angustiante da voz “acusmática” da mãe3, e até no olhar superegóico da câmera, quando sua “neutralidade objetiva” começa a ganhar um ar ameaçador, subvertendo a identificação do espectador com os personagens do filme4.
Os diferentes críticos de Hitchcock fazem dessa subversão da identificação do espectador um lugar comum, mas Psicose é, apesar de tudo, excepcional quanto a isso, porque aqui o procedimento de identificação do espectador e sua subversão constituem em si mesmos a chave do filme. No início, nos identificamos com Marion, seguimos a história a partir de seu ponto de vista. De súbito, seu assassinato nos desconcerta, e se faz necessário encontrarmos um outro ponto de apoio. O detetive substitui essa função, até que ele também seja assassinado. Nos desviamos finalmente para Sam e Leila e sua investigação. Falta apenas a identificação com Norman, o verdadeiro herói desta segunda parte. Aí reside precisamente o corte operado pelo primeiro assassinato: antes, a identificação se faz em torno da heroína principal; depois, torna-se impossível se fixar em um personagem que a substitua como uma outra versão dela, como seu negativo em espelho (seus nomes parecem já se refletir: Marion-Norman). Mas de onde provém então essa impossibilidade?
Tentando buscar a resposta nos dois registros que caracterizam o universo de Psicose, o mundo cotidiano de Marion (com Arbogast, Sam, Leila...) e o mundo noturno de Norman, que seria sucessivamente o do desejo e o da pulsão. A passagem de um personagem a outro seria como o reviramento do registro do desejo ao da pulsão em um mesmo personagem.
O desejo, com efeito, é um movimento metonímico ao infinito, um deslizamento em direção ao objeto-causa originariamente perdido. Sempre insatisfeito, ele se presta a todas as interpretações, coincidindo mesmo com sua interpretação, ele próprio é a passagem de um significante a outro, a incessante produção de novos significantes que dão sentido aos precedentes. A pulsão, ao contrário, é em certo sentido sempre já insatisfeita. Limitada a um circuito fechado, à sua pulsação, em vez de buscar um “sempre outro”, ela gira em torno de seu objeto e encontra seu gozo na própria pulsação. Nisso, ela é parte integrante do real – ela é o que “retorna sempre no mesmo lugar” (Lacan) –, enquanto que o desejo está inteiramente no simbólico. A partir disso, sabe-se porque toda identificação com a pulsão é interdita, uma vez que ela é do registro do real, e que “o real, é o impossível”. Só é possível uma identificação a um outro enquanto sujeito desejante. Norman, enquanto sujeito psicótico prisioneiro de suas pulsões, fracassa na identificação – ele não tem acesso ao registro do desejo, que supõe a passagem pela lei paterna.5
A essa diferença entre o desejo e a pulsão corresponde a dualidade dos objetos hitchcockianos: de um lado o “McGuffin”, o “puro nada”, o “segredo” que impulsiona a ação (a fórmula dos motores de avião em Os trinta e nove degraus, o urânio em Interlúdio, etc.), de outro, o objeto opaco, inerte, material, positivo, que encarna um impasse não dialetizável da rede intersubjetiva (o anel em A sombra de uma dúvida, o isqueiro em Pacto sinistro, a chave em Interlúdio e em Disque M para matar, até as aves em Os pássaros). O “McGuffin” é o objeto-causa do desejo que anima o movimento incessante da interpretação, o esforço para desvendar seu segredo, ao passo que a presença massiva do objeto real, não dialetizável, permite ver a inércia pulsional sobre a qual se sustenta o movimento metonímico do desejo.
Psicose poderia hoje constituir uma crítica ao anti-Édipo transgressor. Norman Bates seria um anti-Édipo avant la lettre; para conseguir se libertar da influência do supereu materno, para se desvencilhar da submissão a esta figura cruel e arbitrária do Outro, não lhe falta senão a Lei capaz de deter o desejo – não o seu desejo, mas o desejo do Outro, da mãe. Antes da intervenção da Lei, o sujeito é vítima dos caprichos do Outro, e ela “introduz o fantasma da onipotência não do sujeito, mas do Outro onde se instala sua demanda (...) e com o fantasma a necessidade sua contenção pela Lei”.6 Por esta razão, a intervenção da Lei é até mesmo uma “desalienação”, pois ela detém o desejo do Outro, o fantasma da onipotência do Outro onde o desejo do sujeito está alienado, introduzindo uma regra à qual o próprio Outro deve obedecer.7 Seria errôneo, contudo, concluir do que precede que a psicanálise reivindica a Lei paterna. Ela não ignora que o pai legislador é um impostor, e que esta posição se sustenta somente como um Outro do Outro8: o pai ocupa um lugar impossível, originalmente vazio, aquele da falta no Outro, do buraco em torno do qual se articula a ordem simbólica. Os defensores do anti-Édipo, que proclamam o fluxo do desejo contra a Lei paterna, desconhecem precisamente esse dado incontornável. A verdadeira transgressão da Lei paterna não consiste em libertar o desejo de entraves postos pela Lei, mas antes em provar esse vazio, esse buraco no outro onde se aloja a impostura do pai, o que vem a admitir o caráter “não-todo” do Outro. A verdade que tenta dissimular essa impostura e esse buraco, assim como a deslumbrante figura paterna, não esconde a não ser o vazio de seu lugar. Este é o motivo de a ilusão desta impostura ser consubstancial à verdade: não há verdade sem erro, como não há lugar vazio sem o elemento do qual esse lugar é o lugar.
* Psycho (1960). Marion, que é a amante de Sam, foge de Phoenix de carro levando quarenta mil dólares que seu chefe lhe havia encarregado de depositar no banco. Á noite, ela para em um motel pouco freqüentado. O jovem gerente do motel, Norman Bates, lhe conta que ele vive com sua velha mãe, que ele adora, ainda que seja difícil a convivência com ela. Marion toma um banho quando, bruscamente, a velha surge, matando-a com uma dezena de facadas e desaparecendo em seguida. Norman reaparece. Ele parece realmente desolado. Ele começa então uma escrupulosa arrumação do lugar, colocando o corpo dentro da mala do carro de Marion, do qual se desfaz deixando-o afundar em uma lagoa. Marion é logo procurada por sua irmã, Leila, por Sam e por um detetive, Arbogast. Este último vai ao motel, onde Norman se recusa formalmente a lhe apresentar sua mãe. Mas Arbogast retorna sub-repticiamente ao motel para falar com ela, sobe ao primeiro andar e aí é assassinado a facadas. Depois, Leila e Sam descobrem que a mãe de Norman já estava morta há oito anos. Eles dois vão ao motel. Norman é desmascarado: ele era ao mesmo tempo ele mesmo e sua mãe, as duas personalidades coabitando nele.
1 Esta estratégia consistindo em produzir um efeito redobrado por meio do procedimento inverso é explorada por Hitchcock em vários níveis; além do assassinato de Arbogast, lembremos ainda o grande travelling no final de Frenesi: acompanhado de sua próxima vítima, o assassino sobe a escadaria até à porta de seu apartamento, a câmera os segue, e quando a porta se fecha atrás deles, a câmera desce a escadaria até à entrada, continuando a recuar em seguida, atravessando a rua e detendo-se no lado oposto, de maneira que se possa ver toda a fachada em plano geral. O que acontece durante esse tempo no apartamento, a câmera indica pela direção de seu movimento: ela desce seguindo de uma gravata (uma volta, depois um traçado reto) – o assassino estrangula sua vítima com uma gravata... Quando a câmera retorna e sai para o espaço aberto da rua, o silêncio opressor do interior da casa é, subitamente, substituído pelo ruído cotidiano, mas o plano geral da casa guarda apesar de tudo um ar sombrio, a cena já está corrompida porque se sabe o que está acontecendo, nesse momento, no interior. Se o travelling “normal”, para frente, do plano geral ao detalhe, produz a mancha, o travelling para trás dissemina-a sobre a cena inteira.
2 Cf. Robin Wood, Hitchcock’s films, A.S. Barnes and Co., New York, 1977, pp.110-111.
3 Cf. Michel Chion, “La Voix au cinéma”, Cahiers du cinéma, ed. De l’Étoile, Paris, 1982, pp. 116-123.
4 Este é o motivo da importância de não se tomar os leitmotives que se repetem de um filme a outro de Hitchcock por símbolos com significação fixa: trata-se, de maneira totalmente oposta, da forma vazia do significante, de elementos por assim dizer “disponíveis”. Por exemplo, encontram-se em quase todos os seus filmes a escadaria sob suas duas formas principais, a grande escadaria suntuosa oval (Suspeita, Interlúdio, Marnie – confissões de uma ladra) e a escadaria reta comum (Um corpo que cai, Psicose, e, novamente Marnie – confissões de uma ladra, etc.); várias vezes, se encontra o motivo de uma mulher má de cabelos negros que, da janela, lança um olhar ameaçador sobre o herói (Miss Danvers em Rebecca, Milly em Sob o signo de capricórnio, Lil em Marnie); a cabeça seca da mãe morta, em Psicose, tem um precedente na cabeça embalsamada colocada pela criada para chocar Ingrid Bergman em Sob o signo de capricórnio; o motivo da heroína que observa de uma maneira impotente um copo de leite fascinante e luminoso – Suspeita – retorna em Interlúdio, etc. Todos esses motivos são elementos a partir dos quais Hitchcock “bricola”, em cada um de seus filmes, uma totalidade específica que sobredetermina sua significação.
5 Cada uma das duas versões alcança seu objetivo, seu ponto de fechamento. A versão do desejo termina no momento em que o sujeito desejante, levado pelo movimento interpretativo, pelo esforço de “descobrir o segredo”, se encontra confrontado ao pequeno a, a seu equivalente objetal, à presença inerte de uma coisa que detém esse movimento – trata-se do confronto final de Lila com o crânio mumificado da mãe de Norman. A versão da pulsão termina com a vitória final da Voz da mãe, que se apodera completamente de Norman.
6 J. Lacan, Écrits, Seuil, Paris, 1966, p.814.
7 O “capricho do Outro” onipotente é também uma maneira de evitar a falta do Outro. A lógica aí é a seguinte: o sujeito se encontra diante da impossibilidade-de-gozar, o gozo (a “satisfação universal”) é sempre fracassado, o Outro não pode jamais lhe conseguir o objeto; ele dá conta deste fato dizendo a si mesmo: “Se eu não estou satisfeito, não é por causa da impossibilidade fundamental da satisfação universal, mas por uma decisão livre, um capricho do Outro onipotente que quer me privar do objeto”. As dimensões teológica e política de tal lógica são extremamente importantes: de um lado, o longo debate teológico a respeito do capricho, do livre arbítrio de Deus (o arbitrário absoluto da predestinação); de outro, o fantasma do despotismo como um poder onipotente aonde reina o capricho, o arbitrário absoluto. (Cf Alain Grosrichard, Structure du sérail, Seuil, Paris, 1978.)
8 Cf. J. Lacan, Écrits, p.813.
Slavoj Žižek
Assinar:
Comentários (Atom)



